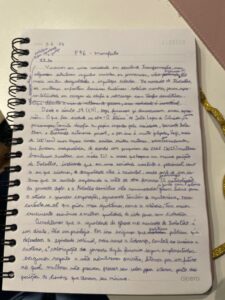Nos fóruns, o frio não vem só do ar-condicionado. Muitas vezes vem do rito. Do número que substitui o nome, da caneta que cai pesada sobre uma história que ninguém perguntou se cabia naquele papel. A Justiça, quando se fecha em si mesma, faz silêncio sobre aquilo que mais importa: gente.
Milton Santos nos oferece a chave para destravar essa porta: “A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une.” No mundo empresarial, a alienação aparece quando não enxergamos vidas. Quando decidimos ver o que nos une: dignidade, igualdade de oportunidades e trabalho decente, a Justiça deixa de administrar papéis e passa a reconstruir pertencimento.
Não falo de teoria distante. A agenda brasileira de Direitos Humanos e Empresas amadureceu: da Campanha pelo Desmantelamento do Poder Corporativo (2012, na Cúpula dos Povos, na Rio+20) ao GT Corporações (2014), que aproximou academia, sociedade civil e movimentos; e da atuação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, com a Resolução 5/2020 que define diretrizes nacionais, à necessária retomada crítica conduzida pela Coordenação-Geral de Direitos Humanos e Empresas do MDHC. Nossa Constituição já havia dado o norte, liberdade, segurança, bem-estar, igualdade e justiça como valores supremos, mas os fatos lembram que ainda falhamos: levantamentos do CIEDH (2020) indicaram o Brasil entre os países latino-americanos com mais ações judiciais por violações empresariais, que atingem sobretudo quem está em situação de vulnerabilidade.
Eu acompanho e participo desse debate desde 2012. E mais recentemente, atuei na Comissão do Pacto Global da OAB/PR, justamente para trazer essa pauta para o dia a dia da advocacia: cláusulas contratuais que protegem pessoas, due diligence que não é de fachada, remediação que chega a tempo.
Numa dessas tardes de audiência, um caso de terceirização empresarial chegou desidratado de humanidade: assédio, péssimas condições de trabalho e de dignidade de vida. Sem espetáculos, sem detalhes que exponham quem já carrega o peso, fiz o que me cabe. Pedi escuta, pedi prova e pedi limites: circulação livre, equipamentos adequados, jornada dentro da lei, canal de queixas que funcione, responsabilidade solidária de quem contrata e lucra. O processo não virou manchete; virou compromissos assinados e rotinas corrigidas. E, ali, a Justiça ficou mais próxima das pessoas.
Porque qualquer agenda séria de Direitos Humanos e Empresas precisa, antes de tudo, ser guiada pelo protagonismo das pessoas detentoras de direitos — especialmente as vítimas, ou potenciais vítimas, de violações. É da perspectiva delas que se enxerga o que realmente importa e se mede o que realmente muda.
Humanizar não é suavizar a lei; é orientar a técnica para o centro certo. No contencioso ou na consultoria empresarial, isso significa:
- cláusulas e auditorias que alcance(m) a ponta da cadeia,
- due diligence de direitos humanos (com respeito de gênero e vulnerabilidades) com risco mapeado, mitigado, monitorado e remediado,
- canais de denúncia efetivos também para terceirizados,
- transparência que sai do marketing e entra no cumprimento verificável,
- e decisões que não confundem eficiência com indiferença.
“Mas o tempo é curto e a fila é longa.” Eu sei. Também conto minutos. Só que dignidade não costuma atrasar: cabe numa tutela que impede um abuso hoje, numa ata que garante escuta, numa cláusula que impede a repetição amanhã.
Se a Justiça fria é uma sala sem janelas, a Justiça que acolhe abre a cortina. Vê o que nos une: a humanidade e o direito das pessoas; e, a partir disso, corrige o que nos separa. Esse é o compromisso que levo para as petições, para as audiências e para as mesas de negociação já há muito tempo: usar o Direito Empresarial para defender direitos humanos. Porque, no fim, a lei é ferramenta. Quem segura a ferramenta somos nós. Vamos usá-la para erguer muros ou para construir pontes? Eu já escolhi.